A falta que faz o Pasquim
Fui conferir a exposição em homenagem aos 50 anos de lançamento do Pasquim. Saí do SESC Ipiranga frustrado. Não com a exposição, que é ótima, nem com o jornal, uma das melhores coisas já feitas na imprensa brasileira. Saí frustrado com nós mesmos, com o que fizemos de nós.
Onde foi que desaprendemos a enfrentar as adversidades com deboche e irreverência? Onde foi que perdemos a capacidade de subverter o noticiário para estampar na capa o chiste, a provocação, o ultraje?
O Pasquim faz uma falta enorme. Em 2019, quase 2020, temos muito a aprender com aquela turma de jornalistas e ilustradores. Arrisco dizer que, após 11 meses de governo Bolsonaro e com outros 37 pela frente, precisamos inventar o Pasquim dos tempos atuais — o Pasquim nos tempos da cólera, o Pasquim da Terra plana, o Pasquim pós Bacurau.

Exposição sobre os 50 anos do Pasquim tem diversos ambientes e instalações espalhadas pelo SESC Ipiranga, em São Paulo
A primeira edição do Pasquim chegou às bancas em 26 de junho de 1969. Antigamente, a palavra banca designava um estabelecimento comercial aonde os clientes iam para comprar jornais e revistas, sempre em papel. Em menor escala, pilhas, guias de ruas, seda para cigarros, balas 7 Belo, gibis e álbuns de figurinha. Jaguar, editor de humor e principal nome do jornal, sugeriu que a primeira edição saísse com 5 mil exemplares. Rodaram 14 mil e esgotou em dois dias. Foi preciso imprimir mais 14 mil exemplares para suprir a demanda dos curiosos antes que a segunda edição ficasse pronta. Seis meses depois, sua tiragem era de 225 mil exemplares. Por semana.
O Pasquim surgiu como um jornal de bairro, concebido para circular semanalmente no microcosmo de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ganhou o país.
Era conduzido por chargistas e cartunistas, e não por profissionais do texto, como é praxe nas direções de jornais, revistas e, mais recentemente, portais. Jaguar, Fortuna, Ziraldo, Henfil, Millôr e Claudius foram alguns dos artistas mais assíduos. Amorim, Mig, Gilmar, Miguel Paiva, Garcez, Paulo Caruso e Laerte também passaram por lá, entre muitos outros. Vem daí a atenção dada à composição visual, o empenho pela microedição, o protagonismo da imagem e, principalmente, a disposição para adotar um novo estilo de escrita, mais coloquial, próximo da linguagem oral.
As entrevistas publicadas no Pasquim eram diferentes de todas as outras. Resultavam de longas conversas, que duravam horas, invariavelmente regadas a uísque, das quais participava meia dúzia de entrevistadores. Um interrompia o outro, vozes se sobrepunham, polêmicas surgiam, assim como as risadas. As transcrições eram transpostas na íntegra e praticamente sem edição para as páginas. O que os leitores tinham nas mãos era uma conversa real, saborosa, que não se prestara a nenhuma padronização para que se enquadrasse num suposto "padrão jornalístico".
Para ser preciso, nada no Pasquim se enquadrava. Essa forma de publicar entrevistas, que viraria sua marca registrada, surgiu por acaso, quando Jaguar foi incumbido da tarefa de degravar a primeira entrevista do jornal, com o colunista social Ibrahim Sued. Jaguar, chargista e boêmio, jamais havia transcrito uma entrevista na vida. Quando terminou, estava em cima da hora para enviar para a gráfica. E, embora o editor Tarso de Castro reclamasse do amadorismo do texto, cheio de vícios da linguagem oral, não houve tempo para copidesque, para ajustar o conteúdo ao tal "padrão jornalístico". Entrou do jeito que estava. E foi um sucesso.
Cinco meses depois de lançado, há exatos 50 anos, quem ocupou a capa e as páginas de entrevista foi a atriz Leila Diniz, a estrela de Todas as mulheres do mundo (1966), do cineasta Domingos de Oliveira, de quem tinha sido namorada. Um ano antes de exibir sua barriga de gestante na praia e escandalizar a tradicional família brasileira, Leila ficou bem à vontade para responder às perguntas da trupe: Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Luiz Carlos Maciel e Paulo Garcez.

Primeira página do Pasquim com entrevista histórica de Leila Diniz em novembro de 1969: nada de falso moralismo
"Durante duas horas ela bebeu e conversou com a equipe de entrevistadores numa linguagem livre e, portanto, saudável", diz a abertura da matéria. "Seu depoimento é de uma moça de 24 anos que sabe o que quer e que conquistou a independência na hora em que decidiu fazer isto. Leila é a imagem da alegria e da liberdade, coisa que só é possível quando o falso moralismo é posto de lado". Falso ou verdadeiro, o moralismo passou longe daquela entrevista. Segue um trecho:
Tarso: A televisão não paga em dia, não?
Leila: Antigamente, pagavam sempre. De uns três meses pra cá, eu ando muito (*) porque a Excelsior se (*) e eu junto (nota do blog: endividada, a emissora Excelsior encerraria os trabalhos em setembro de 1970, dez meses depois da entrevista de Leila). (…) Televisão que era nosso único meio agora tá entrando pelo cano: tem muito poucas, a Globo, talvez a Tupi e um pouco a Record. Então, está (*). Pra entrar lá, você tem de (*) pra todo mundo. (…)
Tarso: Quer dizer que o pessoal da televisão tem exigências não profissionais? Ficam querendo faturar as moças, é isso?
Leila: Não está mais tanto assim, não. Já esteve muito. A mim, nunca quiseram, porque eu mando logo tomar no (*). Quando eu quero eu vou com o cara.
No total, 65 palavras foram substituídas por asteriscos. Nunca ninguém tinha visto tanto palavrão na boca de um entrevistado. Foi um estouro, com 115 mil exemplares vendidos, quase o dobro dos 60 mil da edição anterior, o que colocou o Pasquim no topo do ranking de circulação (naquela época, a Veja não chegava a 100 mil exemplares).
Onde foi que abandonamos a sanha criativa e nos acomodamos com um jornalismo repetitivo, declaratório, convencional, e que se leva a sério demais enquanto desperdiça suas melhores horas buscando consolidar uma imagem de imparcialidade claramente inexistente? Quando foi que trocamos o gozo pela retidão, a alegria pelo medo, a ousadia pelo medíocre?
O Pasquim é fruto do AI-5. Uma das respostas mais alucinantes que poderiam ser dadas ao ato institucional que fechou o Congresso, oficializou a censura e consagrou a linha dura na condução de Brasília.
"Um grupo de pessoas, consideradas de um certo QI, esperou o AI-5 pra abrir um jornal pra falar mal do Governo!", conta Jaguar numa tirinha exposta no SESC. "Uma ideia brilhante! Deu tão certo que, seis meses depois, tava todo mundo em cana".
Na verdade, os nove malucos à frente do Pasquim foram presos um ano e meio após o lançamento do jornal, em novembro de 1970. Meses antes, em fevereiro, o Decreto-Lei 1.077 instituíra a censura prévia e a obrigação de submeter todo o conteúdo da edição seguinte para que os censores determinassem o que estava liberado e o que deveria ser alterado. Isso obrigava a equipe a produzir o dobro ou até o triplo de material. Quando houve a prisão, o jornal protestou de forma mais ou menos cifrada, com a irreverência de sempre. O Pasquim havia aprendido a rir de si mesmo, e mantinha com os leitores uma relação de proximidade.
Em 11 de novembro de 1970, a capa da primeira edição após a prisão saiu com a ilustração de um lobo e um cabrito. Da boca do lobo, um balão com o seguinte texto: "Enfim um Pasquim inteiramente automático. Sem o Ziraldo, sem o Jaguar, sem o Tarso, sem o Francis, sem o Millôr, sem o Flávio, sem o Sérgio, sem o Fortuna, sem o Garcez, sem a redação, sem a contabilidade, sem gerência e sem caixa". Na edição seguinte, recheada de material produzido por colaboradores solidários, a linguagem subliminar se manteve: na capa, o rato Sig, com o traço de Jaguar emulado por Henfil, procurava a saída de um confuso labirinto ao lado do seguinte balão: "Ainda com algo a menos, mas agora com muito mais". Na edição de 6 de janeiro, a capa trouxe a seguinte frase: "Os nove do Pasquim agora são um". Oito haviam sido soltos. Faltava o Tarso.
As edições continuaram saindo durante toda a temporada de reclusão graças à ajuda de colaboradores que se juntaram para tocar o barco. Poucas publicações, a propósito, tiveram uma rede tão fiel e talenrosa de colaboradores quanto o Pasquim. No texto, além do editor Tarso de Castro e de autores mais ou menos fixos como Ivan Lessa, Sérgio Cabral (o pai!), Paulo Francis (acredite!), Aldir Blanc, Ruy Castro, Flávio Rangel e Tárik de Souza, estiveram presentes nomes como Alberto Dines, Jô Soares, Chico Anysio, Caetano Veloso, Glauber Rocha e outros.
É verdade que, observada pelo retrovisor, a trajetória do Pasquim também teve seus deslizes, seus escorregões, seus tiros no pé. Não somente do ponto de vista comercial — um case de fracasso e inaptidão administrativa a despeito do altíssimo faturamento registrado nos dois primeiros anos —, mas sobretudo do ponto de vista dos preconceitos reforçados em seu humor muitas vezes machista e politicamente incorreto (o "bicha" é constantemente discriminado em suas páginas, mulheres são objetificadas, o feminismo é alvo de chacota, há piadas sobre cu, putas, pobres e pretos…). No filme Lampião da esquina (2016), de Lívia Perez, sobre outro jornal alternativo dos anos 1970, a cartunista Laerte dá seu testemunho do humor misógino que ela mesma chegou a produzir para o Pasquim, muitos anos antes de empreender a travessia que a levou a se assumir como mulher, já nos anos 2000.
O Pasquim também é frequentemente cobrado pelo sectarismo com que apontava sua artilharia para os adversários políticos e, principalmente, para os dissidentes, mesmo aqueles que não tinham agido com má fé a ponto de merecerem tal escracho.
Havia certa inclinação para a condenação, para o justiçamento, às vezes apressado ou desproporcional, como mostram dois episódios distintos, que guardam entre si alguma semelhança: a matéria em que o cantor Simonal, ainda em 1969, foi qualificado como dedo-duro e colaborador da ditadura, e a tirinha de 1972 em que Henfil enterra Elis Regina no cemitério dos mortos-vivos do Cabôco Mamadô (onde o cartunista costumava enterrar aqueles que, no seu quesito, havia morrido política ou artisticamente, normalmente por se alinhar com os militares). A cantora havia feito um show na Olimpíada do Exército, na semana do 7 de setembro, segundo ela por pressão dos generais.
Concebido como um jornal sem patrões por uma "patota" de amigos mais disposta a tomar chope do que a estudar planilhas de gastos e acompanhar relatórios financeiros, o Pasquim foi definhando aos poucos na década de 1980. Já não era tão forte e vigoroso desde o episódio das prisões, quando a tiragem caiu à metade e os anunciantes sumiram, e foi perdendo o espírito de contracultura nos anos seguintes. O fim da censura, cinco anos após a fundação, também contribuiu para que o Pasquim perdesse parte de sua identidade e de seu ativismo. Mas, principalmente, o que determinou seu fim foi a falta de disposição daquela turma para gerir uma empresa jornalística.
"Durante toda a sua existência como imprensa alternativa, O Pasquim foi uma sociedade por cotas instável, em que mudava a composição acionária, a cada crise", diz o jornalista e pesquisador Bernardo Kucinski no livro Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. "Mas não foram obedecidas regras básicas de administração, controle financeiro e de estoques, o que levou ao estrangulamento de um projeto editorialmente bem-sucedido. O grupo não se via como uma empresa, nem mesmo como uma redação convencional, mas como uma patota, um grupo de amigos que tinha prazer de fazer se suas relações pessoais e idiossincrasias matéria de jornal". Foi bom enquanto durou. Ou melhor: foi ótimo. Fez história, deixou uma marca inesgotável no jornalismo político e de humor e, principalmente, sobreviveu à ditadura enquanto muitos jornais alternativos foram liquidados por ela.
Se a ditadura militar durou 21 anos, o Pasquim durou 22.
Bora lançar um novo Pasquim?

Grupo de estudantes ouve sobre censura, imprensa alternativa e repressão durante a ditadura em visita à exposição O Pasquim: 50 anos!, até 12 de abril no SESC Ipiranga
Exposição "O Pasquim — 50 anos!"
Curadoria: Zélio Alves Pinto e Fernando Coelho dos Santos
SESC Ipiranga: Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga, São Paulo (SP)
Até 12 de abril de 2020













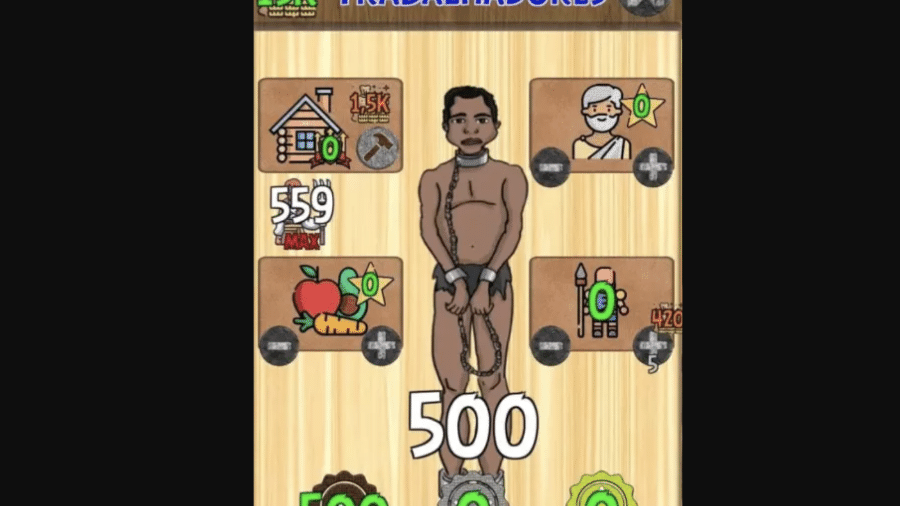


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.